
Antes do programa “Mais Médicos”, criado pelo Governo Federal em 2013, existiam no Brasil uma média de 1,8 médicos para cada 1000 habitantes. Esse número é menor que o de países vizinhos como Argentina (3,9) e Uruguai (3,7), por exemplo. Esses índices constam no livro “Mais médicos – 2 anos: Mais saúde para os brasileiros”, produzido em 2015 pelo Ministério da Saúde. Antes da criação do programa, o número de médicos por habitante era significativamente menor que a necessidade da população e do SUS. Nas regiões norte e nordeste, por exemplo, os números sequer se aproximavam da média nacional, como o caso do Estado do Maranhão, com 0,58 médicos para cada mil habitantes.
Além dessa insuficiência de médicos, ainda havia a questão da distribuição deles pelo território. Segundo o livro, mesmo nos Estados que superam os 1,8, como Rio de Janeiro (3,44) e São Paulo (2,49), não havia uma distribuição proporcional dos profissionais, pois eles se concentravam nas capitais. Além disso, áreas mais pobres e vulneráveis eram as menos atrativas para o serviço desses médicos.
Esses foram alguns pontos que impulsionaram a criação do “Mais Médicos”, conforme o Ministério da Saúde. A meta do órgão é que em 2026 o país possua 2,7 médicos para cada mil habitantes. O professor de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Alcides Silva de Miranda, analisou o processo de implantação do programa no Rio Grande do Sul.
Alcides é formado em Medicina e durante toda formação acadêmica atuou em diversos estados como Pará, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia. O professor esteve na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em junho, para uma aula pública sobre a atual situação da saúde pública no Brasil. Ele conversou com a revista Arco e abordou as considerações da sua pesquisa sobe o “Mais Médicos”, as especulações de que o programa seria extinto e ainda sobre a formação fragmentada que os estudantes de medicina recebem nas instituições de ensino.
Como a proposta do programa “Mais Médicos” contribui para a melhoria do problema da escassez de médicos no Brasil?
O maior problema no nosso país é a distribuição. Há uma concentração de médicos no Brasil, em regiões onde há um mercado paralelo ativo. Os dados mais recentes nos indicam que, por exemplo, a cada 100 médicos, em torno de 24 não têm nenhum relação com o SUS, 20 trabalham exclusivamente com o SUS e 56 têm um “pé” no SUS e trabalham na iniciativa privada – vivem nessa ambiguidade. Não só nos chamados “grotões” do Brasil, o interior, mas também as grandes periferias das metrópoles que não têm médicos – e eles não se deslocariam de onde estão porque eles têm essa vinculação com o mercado paralelamente ao SUS.
Várias propostas de governo tentaram incentivar e fixar esses profissionais, mas nunca deu certo. No momento em que o governo propôs trazer profissionais de fora, houve uma forte reação da corporação médica com o discurso que “bastava o governo criar um plano nacional para os médicos para haver uma melhor distribuição”. Mas eles não apresentaram essa proposta, e aí a impressão que eu tenho é que a corporação médica, ou pelo menos uma parte significativa dela, não está muito motivada em garantir a atenção à saúde onde ela não existe. [A corporação médica] está mais motivada em garantir seus nichos de mercado.
Os resultados do programa têm sido muito interessantes, analisei vários municípios do Rio Grande do Sul. O impacto ainda é pequeno, porque boa parte desses profissionais vieram substituir outros que saíram – então, no Rio Grande do Sul, o programa tem um caráter mais substitutivo do que complementar, pelo menos até o terceiro ciclo. Mas a partir do quarto ciclo estão chegando mais profissionais, principalmente brasileiros. Acabar o programa agora seria um erro, porque, na verdade, precisa-se consolidar não só o programa ou a presença do médico, mas atenção primária em saúde.
O “Mais Médicos” pode ser considerado um ato de caráter emergencial e a curto prazo?
Eu acho que ele foi emergencial no sentido de que era fim de governo, havia interesse eleitoral inclusive – acho que isso é importante ser colocado. O governo que lançou o “Mais Médicos” tinha interesse nisso. Mas na verdade, o programa é estruturante para a atenção primária e por isso ele abre possibilidades. Por exemplo, no governo FHC, o programa “Saúde da Família” foi ampliado por objetivo eleitoral – eles queriam eleger o [José] Serra, que era Ministro da Saúde. Isso pode ser considerado ruim, mas posteriormente o programa se consolidou como algo muito importante para o país.
Infelizmente no Brasil, como não há uma arquitetura para o SUS, ele vive de “puxadinhos e penduricalhos”. Quando se faz uma proposta, mesmo que eleitoreira, que pode depois servir como uma estratégia estruturante [do SUS], a gente questiona mas não desqualifica. E eu acho que, nesse aspecto, o programa “Mais Médicos” foi emergencial naquele momento, em alguns aspectos, mas em outros ele é uma estratégia estruturante e isso precisa ser resguardado e reforçado.
Parte significativa da corporação médica não está muito motivada em garantir a atenção à saúde onde ela não existe, mas sim em garantir seus nichos de mercado
Que outras medidas são necessárias, através de ações de Estado, para contribuir com a melhoria da saúde pública do país?
Eu acho que primeiro tem que financiar o sistema público universal. Há um discurso que o problema do SUS não é financiamento, é gestão. Eu queria ver fazer a gestão com o financiamento que o SUS tem – atender toda a população brasileira, a mãe paraguaia que atravessa a fronteira para vacinar o filho, o turista italiano que está passando as férias e quebrou a perna… É muito fácil fazer esse discurso que o problema é gestão quando nós temos um “desfinanciamento” enorme.
É claro que existem problemas de gestão. E, nesse aspecto, é importante se fazer reformas sob a égide do direito público, para consolidar o SUS. Discutir uma alternativa para a organização do trabalho, uma carreira única para os trabalhadores do SUS, uma melhor distribuição dos recursos entre regiões e municípios, a viabilização de regiões de saúde – não somente como um espaço assistencial, mas como um espaço de atenção integral, de promoção, de proteção, de recuperação e reabilitação, vinculada a outras políticas que são importantes, assim como educação e meio ambiente.
Nós temos uma agenda que é estratégica para o Estado brasileiro – e o SUS está nela. Mas o que está acontecendo agora é um atentado. É uma maneira de “desfinanciar” mais, de torná-lo algo somente assistencial, empobrecido em todos os sentidos, e isso precisa ser denunciado. Existem alternativas que estamos discutindo. Existem boas experiências, inclusive de gestão, que não ganham publicidade justamente porque a grande mídia também é financiada por quem não tem interesse na viabilização do SUS.
Você afirma que, no atual cenário de formação dos médicos no Brasil, os estudantes são condicionados a enxergar o SUS como um “mal necessário”, que a formação é voltada para o mercado. Como essa dinâmica afeta o SUS e como uma reforma na formação dos profissionais contribuiria para uma mudança nessa condição?
Eu acho que é pior do que isso. Eles são treinados, ou melhor, adestrados a perder a sensibilidade. Eles são adestrados a lidar com doenças, e não com pessoas. Têm uma formação fragmentada: se tornam especialistas sem ter uma noção do sentido de integralidade. Às vezes, tem sete especialistas cuidando de uma pessoa, nenhum conversa com outro e não conseguem enxergar a pessoa como um ser humano integral.
A formação, hoje, cria essas condições. Eu acho que uma alternativa de reforma, não só da Medicina, mas de toda a área de saúde, é vincular cada vez mais essa formação ao SUS, a essa perspectiva integrada de saúde, para que eles possam trabalhar juntos. Inclusive, aprender a trabalhar em equipe.
O médico não sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar de maneira hierárquica. Hierarquiarizada, verticalizada – ele mandando, inclusive. Ele não sabe trabalhar com integralidade, trabalha com fragmentação, com especialidades.

Nós precisamos investir na possibilidade dos profissionais de saúde conviverem e compartilharem projetos de atenção integral, o que acontece muito pouco e pode ser considerado uma resistência [aos modelos de atenção especializada]. Estou sabendo que algumas faculdades de Medicina, inclusive a da UFRGS, estão tentando reagir contra as novas diretrizes curriculares, que exigem mais vivência em atenção primária. E o discurso é: “A atenção primária não nos interessa, é coisa pra cubano”. É claro que há um interesse de mercado, mas este interesse é velado e nunca colocado claramente.
Não há um interesse genuíno em fazer o melhor, e de uma forma compartilhada com outros profissionais. Há um interesse em manter a distinção da corporação médica, e a sua dissociação em relação ao sofrimento humano. As pessoas são vistas como doenças e o problema se resolve com tecnologia, com intervenção, não com o mais importante da clínica: a verdadeira condição do médico, que é a capacidade de escuta, a capacidade de diálogo, a capacidade de negociar projetos terapêuticos e de vida. Meu discurso não é contra a corporação de médicos, mas contra a corporação de mercadores de doença.
Os médicos possuem essa dualidade de vínculos – com o SUS e com as operadoras de planos de saúde. Como essa situação afeta a atual situação de distribuição dos médicos?
Eu não critico a dualidade de vínculos, acho perfeitamente normal se um profissional quiser ter um consultório particular e também trabalhar no SUS. O que eu critico é a ambiguidade. Porque uma coisa é ambivalência, ou polivalência, de estar em vários lugares, de operar em vários lugares, e de modos distintos. Outra coisa é confundir e usar o SUS para transferir custo, para identificar clientes que podem ser levados para a iniciativa privada, ou seja, parasitar o SUS.
O profissional que está no SUS e depois vai para seu próprio consultório, tudo bem. Acho que a gente tem que incentivar que os profissionais trabalhem cada vez mais na rede pública, mas eles têm que ser valorizados: têm que receber condições de trabalho, salário. E não só os médicos, mas todos os profissionais, porque os médicos ganham cerca de seis vezes mais que os outros profissionais da saúde. Se o profissional optar por não ficar só na rede pública, não vejo problemas, desde que ele entenda claramente que são duas perspectivas diferentes de trabalho.
O trabalho na esfera pública, sob a égide do direito público, é um trabalho que tem a ver com as concepções, com os princípios e as diretrizes das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. [O profissional] não pode confundir isso com o que ele faz na iniciativa privada. Os médicos gostam de cultivar uma ilusão de profissional liberal – mas todos estão empresariados, tudo é pessoa jurídica hoje. Eles preferem ser escravos dessa lógica empresarial do que trabalhar no SUS. Muitas vezes porque são “adestrados”, são condicionados a isso desde a formação na faculdade de medicina. Então é uma questão ideológica também, me parece.
Qual a sua opinião acerca do debate sobre o Ato Médico e a questão do “bipoder” dentro da Medicina?
O Ato Médico é aquela velha pretensão dos médicos de manter essa relação vertical de poder, de exclusividade. Hoje, os problemas são outros. A ideia da transdisciplinariedade, pelo menos da interdisciplinariedade, no compartilhamento de ideias complexas, implica que os profissionais possam trabalhar de outra maneira também.
Então, qualquer ato exclusivista é um ato de arrogância. E esse é o grande problema da corporação médica, porque eles cultivam o complexo de superioridade. E esse complexo está dificultando que eles vejam que quem mais perde com isso são as pessoas que estão sofrendo. Então eu sou contra o Ato Médico, acho um absurdo, acho que esse discurso corporativo precisa ser enfrentado, e esse complexo de superioridade precisa ser melhor refletido principalmente por esses profissionais e os estudantes de Medicina.
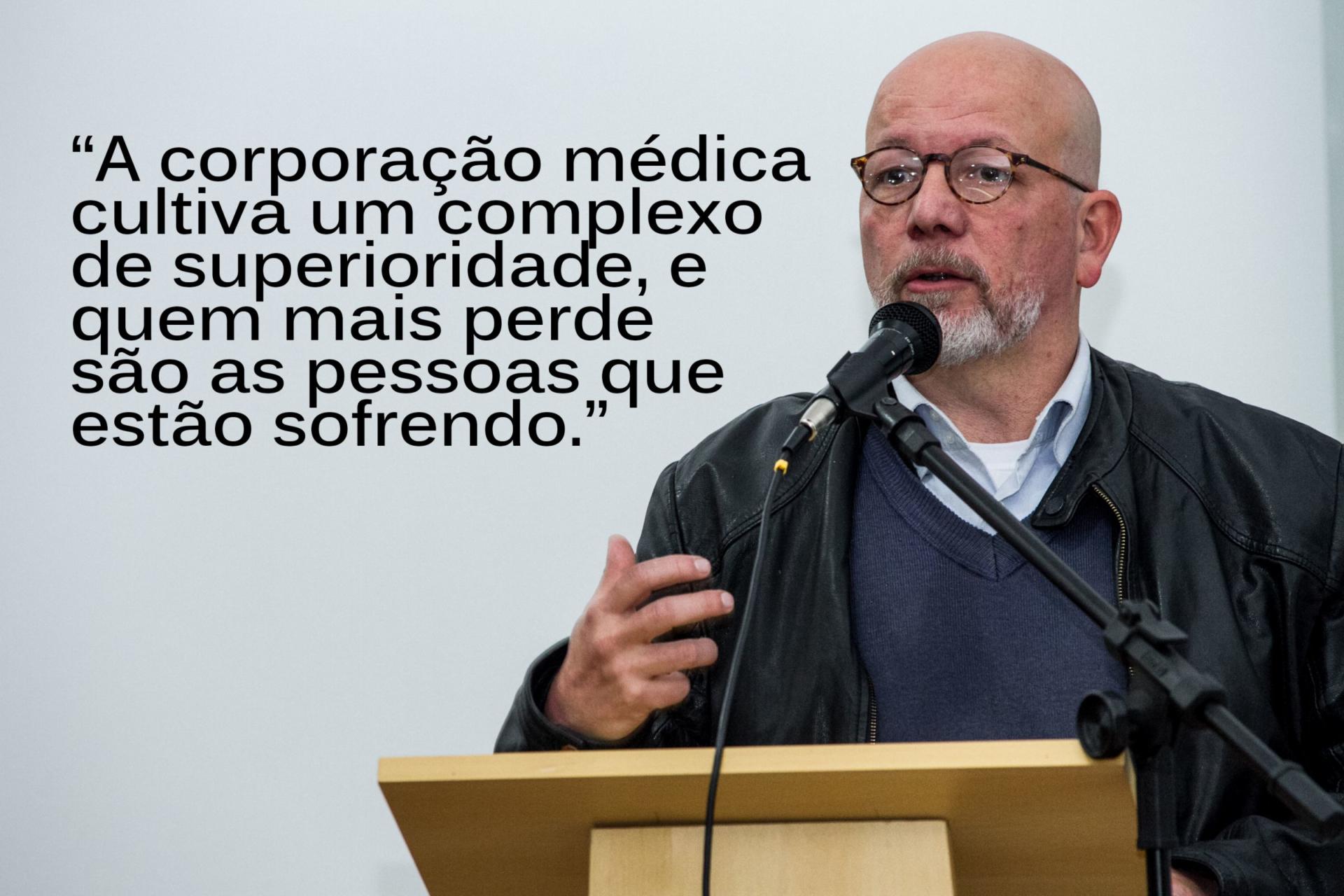
Reportagem: Nadine Kowaleski Ribeiro
Fotografia: Rafael Happke




